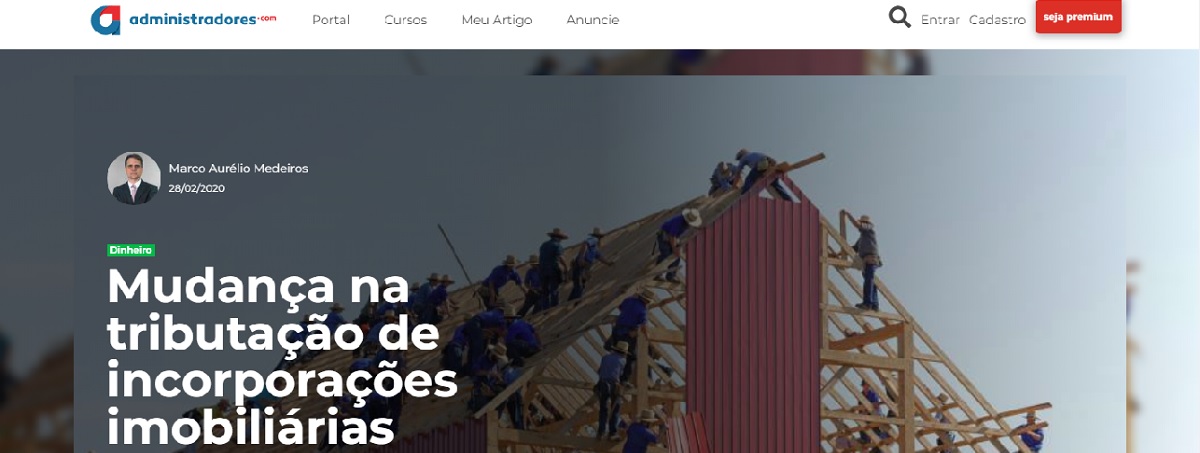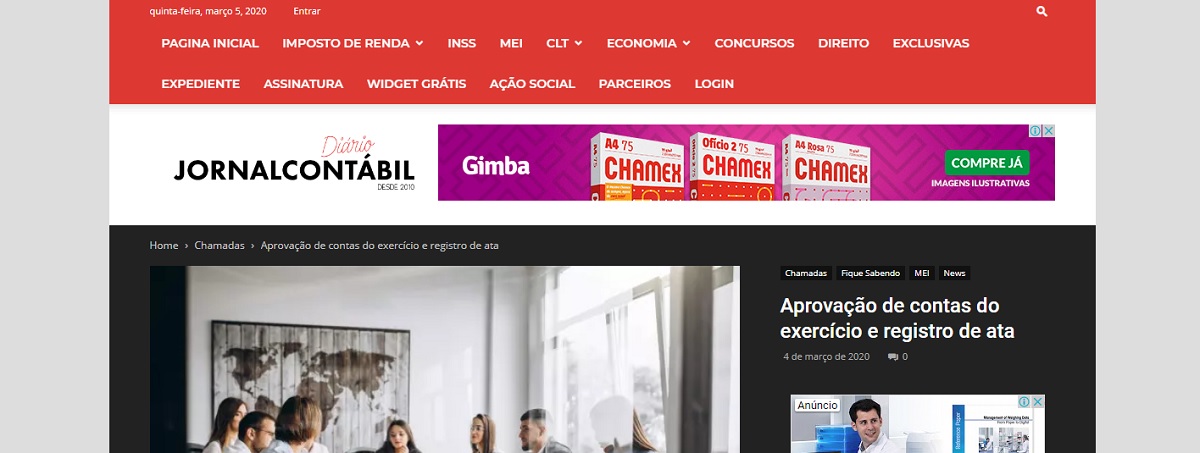Artigo sobre incorporação imobiliária no administradores.com
Artigo do sócio da MSA Advogados, Marco Aurélio Medeiros, sobre mudanças na tributação de incorporações imobiliárias foi reproduzido no site administradores.com.
O artigo alerta sobre as mudanças em relação a tributação que devem ser observadas por incorporadores a partir de agora.
Veja o artigo completo.
Jornal Contábil reproduz matéria da MSA
O site Jornal Contábil (www.jornalcontabil.com.br) reproduziu matéria da MSA Advogados que aborda a aprovação de balanços de empresas em assembléia de sócios e o registro da respectiva ata na junta comercial.
O artigo explica as implicações de não fazer o procedimento de modo correto e quais empresas estão obrigadas a fazer isso.
Veja a matéria na íntegra.
JusBrasil destaca alteração de legislação imobiliária
O site JusBrasil destacou a alteração na legislação de incorporações imobiliárias, utilizando como fonte matéria publicada no blog da MSA Advogados e citando a opinião de um dos sócios do escritório, Marco Aurélio Medeiros, em relação a mudança.
Veja a matéria completa do JusBrasil.
Artigo de sócio da MSA no JusBrasil
A nova lei de franquias entra em vigor até final de março e o site JusBrasil, especializado em matérias e artigos jurídicos, publicou texto do sócio da MSA, Marco Aurélio Medeiros, em que faz alerta sobre as mudanças na legislação e o impacto para franqueados e franqueadores.
Veja a artigo no JusBrasil.
JusBrasil divulga notícia sobre quebra de sigilo bancário
O site JusBrasil, especializado em notícias e artigos do meio jurídico, publicou em seu site matéria sobre regulamentação da quebra do sigilo bancário dos brasileiros.
A matéria aborda as últimas decisões do STF e a tentativa de regulamentação da quebra do sigilo bancário no Rio de Janeiro. Na matéria, o sócio da MSA Advogados, Marco Aurélio Medeiros, se posiciona contra essas tentativas de regulamentação de quebra do sigilo bancário.
Veja a matéria no JusBrasil.
Site Contadores publica artigo de Marco Medeiros
O site contadores.cnt.br publicou esta semana o artigo do sócio da MSA Advogados, Marco Aurélio Medeiros, que trata sobre a nova legislação para franquias no Brasil. A mudança ocorreu neste ano de 2020 e deve ser entendida por franqueados e franqueadores.
Veja o artigo completo.
Artigo de sócio da MSA Advogados no administradores.com.
Foi publicado no site administradores.com o artigo do sócio da MSA Advogados, Marco Aurélio Medeiros, sobre a mudança na nova lei de franquias. O artigo já foi publicado no blog da MSA e trata sobre a nova legislação que impacta franqueadores e franqueados e entrou em vigor no ano de 2020.
Veja o artigo completo.
ICMS não integra a base de cálculo da CPRB
Depois do julgamento do STF quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, outras teses na mesma linha vão se firmando no judiciário.
O STJ decidiu, em sessão do dia 10/4/2019, que o ICMS também não faz parte da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).
A CPRB substituiu o recolhimento do INSS sobre a folha de salários para algumas atividades, de acordo com a Lei n° 12.546/2011. Desse modo, a empresa deixa de pagar a contribuição previdenciária sobre os salários, e passa a pagar uma contribuição incidente sobre o faturamento, em percentuais que variam de 1% a 4,5%.
A decisão do STJ reduz o custo tributário das empresas, pois esses percentuais sobre a receita bruta passariam a incidir sobre uma base reduzida, o faturamento subtraído do ICMS.
Contudo, as empresas que desejarem iniciar o pagamento reduzido, bem como recuperar o pago a maior nos últimos cinco anos, precisam buscar a justiça.
Assim como se deu no caso da base do PIS/COFINS, a Receita Federal do Brasil (RFB) resistirá a reconhecer o entendimento jurisprudencial até o último recurso. Afinal, poucos reclamam, de modo que a cobrança indevida acaba rendendo frutos para o fisco na maior parte do universo de contribuintes.
Por esse motivo as empresas não devem perder tempo, e acionar o quanto antes. Isso porque ao acionar, é possível recuperar os últimos cinco anos contados da data da propositura da ação. Ou seja, a cada mês que passa, é um mês que se perde de cobranças indevidas que se tornam irrecuperáveis.
Quórum para destituição de administradores é reduzido e mudam as regras para a exclusão de sócio
A Lei nº 13.792/2019 modificou alguns artigos do Código Civil, na parte que trata de direito societário, em especial, no quórum mínimo exigido para a destituição de administradores.
Assim, o artigo 1603 desta lei diminuiu o quórum de aprovação de 75% para 50% do capital social, para destituição de administradores sócios nomeados no contrato.
Já o art. 1.085 da mesma lei, que possibilita a expulsão extrajudicial de sócio se houver esta previsão no Contrato Social, foi alterado para retirar a exigência de convocação de reunião ou assembleia para deliberar sobre a matéria, quando a sociedade for composta por apenas dois sócios.
Desta alteração, o melhor entendimento é que, a partir dessa nova regra, quando um sócio for detentor de mais de 50% do Capital Social e quiser expulsar outro cotista, em uma sociedade com apenas dois participantes, não precisará convocar reunião ou assembleia-geral extraordinária. Inclusive, é isso que verificamos na exposição de motivos da Lei nº 13.792/2017.
Por outro lado, a expulsão é plenamente viável, pois o contrário seria esvaziar o que consta no caput do mencionado art. 1.085. No entanto, para evitar discussões futuras, o sócio que pretende a expulsão deve notificar o outro participante, para que este possa exercer o direito ao contraditório.
Em seguida, como é ele o majoritário e a sociedade possui apenas dois sócios, pode proceder com a exclusão apenas registrando a alteração do contrato social da Junta Comercial, mesmo sem a assinatura do outro sócio.
Os procedimentos passam então a ficar muito mais simples, rápidos e menos burocráticos. Por outro lado, nas sociedades com apenas dois sócios, ficam reduzidas as garantias do minoritário.
Esse é o período para migrar para o Simples Nacional
Todo início de ano as empresas têm a opção de migrar para o regime do Simples Nacional, se isso compensar tributariamente, desde que cumpram alguns requisitos.
As empresas que já estão em atividade devem fazer o pedido de mudança de regime até o último dia do mês (31/01), retroativo ao dia 1º do mês. Para empresas iniciantes, que estão se compondo, o prazo é de 30 dias após o deferimento da última inscrição estadual ou municipal, desde que não tenha mais de 180 dias depois da abertura do CNPJ. Isso, em qualquer época do ano em que tenha sido realizada a abertura da empresa.
A solicitação de mudança de regime é feita somente na internet, por meio do Portal do Simples Nacional da Receita Federal (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/). Durante o período da opção, caso não seja mais vantagem optar pelo regime, é permitido o cancelamento da solicitação da opção pelo Simples Nacional. O cancelamento não é permitido para empresas em início de atividade.
Enquanto não tiver vencido o prazo para a solicitação da opção pelo Simples Nacional, a empresa pode regularizar pendências que podem impedir a adesão ao regime, como débitos anteriores com o fisco.
Não é necessário pedido de renovação para empresas já enquadradas no regime do Simples Nacional. A empresa só sairá do regime se fizer uma solicitação ou se for comunicada e excluída pela receita, no caso de não cumprir as exigências legais.
Todas as empresas que desejam optar pelo Simples Nacional devem ter a inscrição no CNPJ, a inscrição Municipal e, quando exigível, a inscrição Estadual. A inscrição municipal é obrigatória, mas a inscrição estadual é exigida apenas para a empresa que exerça atividades sujeitas ao ICMS.
Preste atenção! Por causa de débitos, durante o ano de 2018 e início de 2019 foram excluídas 574.710 empresas do Simples Nacional, sendo 496.922 pela Receita Federal, 13.729 pelos Estados e 64.059 pelos Municípios.
Mas antes de qualquer ação, consulte o seu contador e veja qual é a melhor opção de regime tributário para a sua empresa.
Informações: Portal do Simples Nacional