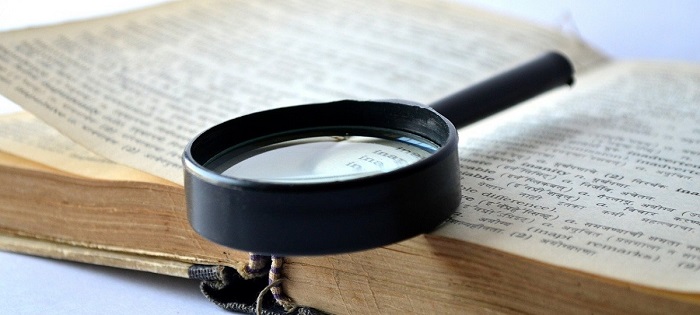Visão geral sobre reforma tributária: o que pode ser modificado por lei
Esse é o terceiro artigo da série sobre reforma tributária, e vamos abordar as mudanças infraconstitucionais, as que podem ser feitas por meio de leis ordinárias, decretos, e algumas até mesmo por atos infralegais, tais como instruções normativas, resoluções, dentre outras.
No primeiro artigo tratamos dos aspectos gerais da reforma, e no segundo artigo falamos das propostas de emenda constitucional em tramitação na Câmara (PEC 45) e no Senado (PEC 110), as quais criam o IBS em substituição ao IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS.
Mudar a constituição é sempre mais difícil do que alterar leis ordinárias. Daí que talvez a reforma devesse começar por aqui.
Na verdade, grande parte dos entraves enfrentados pelas empresas em matéria de tributos sequer está prevista em lei: são as obrigações acessórias, miríade burocrática que transforma a tarefa de apurar tributos em uma maratona de mais de 2 mil horas por ano, segundo estudo do Banco Mundial (Doing Business).
Estamos falando de SPED, E-social, Declarações fiscais etc. Uma única nota fiscal pode exigir milhares de informações diferentes, as quais serão cruzadas com várias outras fornecidas ao fisco por meios diversos, como as declarações citadas. E ai daquele que informar algo divergente…
Erro nas declarações, ainda que não tenha implicado em qualquer supressão de tributos, é passível de multa. E o pior: multa proporcional às operações não informadas, ou informadas incorretamente. Uma nota fiscal que se deixe de escriturar no livro de entradas, por exemplo, gera uma multa de 3% do valor da operação, mesmo que nenhum tributo tenha sido pago a menor.
Qualquer ser pensante, poderia questionar: se a multa não depende do tributo, mas decorre do erro de procedimento em si, qual a diferença em deixar de escriturar uma nota fiscal de R$ 100,00 e uma de R$ 100 milhões? Por que a multa é diferente, se o erro é o mesmo? A multa por supressão de tributo, naturalmente, tem o valor proporcional ao que se deixou de pagar. Mas se já há esse tipo de multa, por que apenar também de forma proporcional um simples erro de procedimento? Enfim, é uma obscenidade.
Como dito, grande parte dessas obrigações nem em lei está – o que é ainda mais grave: obriga aos contribuintes a se atualizarem diariamente com as infinitas normas infralegais expedidas pelas Fazendas federal, estaduais e municipais.
A redução drástica das obrigações, infelizmente, não é um projeto que esteja na mesa. Fala-se em melhorar algo, mas nada de tanta magnitude.
Afora as obrigações acessórias, também são tratadas em leis ordinárias a tributação sobre a folha, a tributação sobre dividendos, as alíquotas de tributos, a substituição tributária, e outros temas menores.
Sobre a substituição tributária, é preciso aguardar a entrada em vigor do IBS para se verificar se continuará a ser usada. Contudo, se o instituto continuar admitido na constituição (hoje está no parágrafo 7° do artigo 150), não há dúvida que o fisco continuará a usar e abusar do expediente.
Facilita a fiscalização, embora transforme a vida das empresas em um inferno, tendo que buscar o MVA de cada produto que vende. Ao menos, com uma legislação unificada, tende a melhorar e a uniformizar a utilização, distinguindo-se do que hoje ocorre, onde cada estado tem a sua, com alguns estados celebrando protocolos entre eles, e com isso obrigando as empresas, a cada operação, a pesquisar a existência de protocolos e a legislação do estado de destino.
A tributação sobre a folha, pauta do Ministério da Economia para a geração de empregos, também se resolve com uma mudança na n° Lei 8212/91. O problema aqui é encontrar substituto para a arrecadação. A contribuição previdenciária paga pelas empresas é uma das principais fontes de arrecadação para a previdência. Abdicar dessa receita, somente com aumento (ou criação) de algum outro tributo. O cobertor é curto.
A tributação sobre lucros e dividendos é outro ponto polêmico. Como se sabe, as empresas podem distribuir seus lucros e esse rendimento é isento para os sócios ou acionistas. Não é de hoje que tramitam projetos buscando alterar essa realidade, e as justificativas são as mais variadas: desde aumentar a arrecadação, até alcançar uma suposta isonomia com a tributação do trabalho assalariado.
Os defensores de tal tributação repetem sempre o mesmo argumento: somente o Brasil e mais um ou outro país, no mundo, concedem essa isenção. Esquecem de dizer que somente o Brasil tem ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL, CIDE, IOF, SPED, DCTF, e outras sopas de letras…
Como se não bastasse, no Brasil, quando da instituição da isenção, o que se deu com o artigo 10 da Lei 9.249/95, a proposta foi unificar a tributação do investidor e da investida com uma alíquota de 34%. Assim, embora tecnicamente tenhamos uma isenção, o que se fez, na época, foi concentrar toda a tributação na empresa. Tal expediente facilita a fiscalização (no lugar de fiscalizar empresas e sócios, basta fiscalizar a empresa), simplifica os procedimentos fiscais para os investidores, e motiva a realização de investimentos.
Daí que, tributar dividendos sem reduzir a tributação da empresa de forma compensatória, representará um tiro no pé, um claro acréscimo de tributação, um desestímulo ao investimento produtivo.
Esse é outro ponto que os defensores da tributação preferem esquecer: dividendo e salário possuem naturezas distintas. Dividendo não é rendimento do trabalho, mas retorno de investimento. Há um prêmio de risco aí que deve ser considerado. Se o rendimento do investimento produtivo não compensar, sempre restará ao investidor aplicar seus recursos em títulos e outros investimentos sem risco.
Em resumo, sem investimento não há salários. O sistema precisa se equilibrar.
Como se vê, as questões infraconstitucionais são tão ou mais relevantes do que as constitucionais. Melhor seria se a discussão partisse desses pontos.
Como a despesa é grande, e a receita não pode cair, um caminho mais racional talvez fosse simplificar as obrigações acessórias sem mexer em tributo; reformar a administração, reduzindo funcionários, vendendo estatais, resolvendo ineficiências; com um novo e civilizado patamar de despesas (ainda que no horizonte), repensar a tributação para esse novo Brasil, em níveis igualmente civilizados.
Visão geral sobre o impacto da Reforma Tributária: as propostas do Congresso
No último artigo, tratamos dos aspectos introdutórios sobre a reforma tributária. Agora vamos tratar especificamente da PEC 45 e da PEC 110, e na próxima semana trataremos das questões infraconstitucionais relativas à reforma tributária.
A PEC 45 é a proposta de emenda constitucional em tramitação na Câmara, e a 110 tramita no Senado. Naturalmente, em algum momento elas precisarão ser conjugadas, juntamente com todas as propostas de emenda que as mesmas vêm sofrendo durante sua tramitação.
Ambas preveem a substituição do ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS por um único imposto, o IBS: imposto sobre bens e serviços. Não há determinação de alíquota, o que, de resto, é de competência da Lei Complementar de acordo com o artigo 146 da Constituição.
Muito se discute quanto à alíquota ideal. A Receita Federal do Brasil (RFB) argumenta que deveria ser de pelo menos 30%; alguns parlamentares e membros do governo federal, indicam 25%. Mas nada há de definido em relação a isso, e tal percentual será definido durante um período de transição.
Ambas preveem um período de transição no qual o IBS conviveria com os tributos hoje existentes. Na PEC 45 esse período é de 10 anos, e na PEC 110 é de 5 anos. Durante a transição, o IBS teria uma alíquota de 1%, o qual seria reduzido da COFINS. O objetivo é testar o comportamento do novo tributo, e com isso se definir a alíquota ideal para que a arrecadação não seja reduzida.
Ou seja, a reforma tributária que vem para simplificar, em um primeiro momento vai complicar, pois obrigará os contribuintes a conviverem com os tributos antigos e com o novo.
Em ambas as propostas, a tributação do IBS será no destino, e terá uma alíquota única. Na PEC 110, no entanto, há a previsão de uma alíquota seletiva para combustíveis e lubrificantes, petróleo e derivados, gás natural, bebidas, cigarros, energia elétrica e carros novos.
O imposto será não cumulativo, sendo possível utilizar como crédito os gastos em todos os bens e serviços adquiridos.
A não cumulatividade, somada à alíquota única, tem trazido controvérsia nos diversos setores econômicos. Uma alíquota única seria muito prejudicial para o setor de serviços, os quais possuem uma cadeia curta, e poucos insumos passíveis de geração de crédito, dado que, em regra, seu maior custo é a folha de pagamento, a qual não gera crédito.
Para os setores industrial e comercial, uma alíquota de 25% com ampla não cumulatividade, representaria uma redução da carga tributária. Isso porque hoje, só de ICMS, PIS e COFINS, esses setores possuem alíquotas entre 23% e 30%, com várias restrições de dedutibilidade. Isso sem contar o IPI já integrado ao custo quando da saída do produto da fábrica, cujas alíquotas costumam ficar entre 10% e 20%.
Ambas as propostas nada tratam do Simples Nacional, o qual é definido por Lei Complementar. A PEC 110 apenas prevê a possibilidade de empresas optantes pelo Simples, caso desejem gerar créditos, possam recolher o IBS fora da sistemática simplificada.
Como dissemos no primeiro artigo dessa série, a reforma representa mudanças constitucionais, de modo que diversas questões relativas a tributos, obrigações acessórias e outros temas não são tratadas nas PECs 45 e 110. Elas tratam apenas da tributação sobre consumo, com a criação do IBS.
Em síntese, o que temos hoje acerca de reforma tributária restringe-se a tal substituição. Outros temas certamente estão na pauta da equipe econômica, mas fora do que atualmente tramita no legislativo. Aliás, é bom frisar que o Executivo sequer apresentou sua proposta de reforma: tais PECs são de iniciativa do próprio legislativo.
A questão do Simples em especial, bem como as propostas e discussões envolvendo tal regime, abordaremos no próximo informativo, quando também trataremos da tributação sobre a folha de pagamento, e demais discussões infraconstitucionais envolvendo a reforma tributária.09
Uma visão geral sobre o impacto de uma reforma tributária
Muitos clientes e leitores têm enviado dúvidas acerca da reforma tributária que está em tramitação. Querem saber o que mudará, naturalmente, e o impacto disso em seus negócios. Por isso, vamos escrever aqui um pouco sobre esse tema, dividindo os tópicos abordados em três partes.
Na parte I, de hoje, tratarei de todos os pontos de forma geral, como forma de introdução ao tema. Na parte II, vou tratar das PECs (propostas de emendas constitucionais) em tramitação; e na parte II, vou tratar dos temas infraconstitucionais, ou seja, aqueles que estão em discussão, mas não na reforma propriamente dita.
Vale fazer uma breve introdução sobre o sistema tributário nacional.
A constituição federal trata do sistema tributário nacional do seu artigo 145 em diante, onde define princípios gerais, indica quais são os impostos da tributos da União, dos Estados e dos Municípios, delimita as competências de cada ente federativo, e estabelece o que será tratado pela lei complementar e pela lei ordinária (aqui, por exclusão, ou seja, o que não for constitucional ou não for de competência de lei complementar).
A constituição prevê ainda a possibilidade de contribuições sociais, que podem ser criadas pela União, e diferem dos impostos porque o produto de sua arrecadação deve estar atrelado a uma finalidade específica.
Desse modo, na constituição federal estão definidos quais impostos temos que pagar. Detalhes como base de cálculo, alíquota, vencimento, apuração etc., estão ou na lei complementar ou na lei ordinária (a diferença entre uma e outra é, basicamente, o quórum para sua aprovação).
Um outro ponto introdutório importante a se fazer, antes de adentrarmos o tema da reforma, se dá quanto à natureza dos tributos em relação ao que está sendo tributado. Temos três grupos importantes, que são: tributos sobre a renda (IRPJ, IRPF, CSLL etc.); tributos sobre o consumo (ICMS, IPI, ISS etc.); e tributos sobre o patrimônio (IPVA, IPTU, ITCMD, ITBI etc.).
Existe um grande debate acerca de qual seria a tributação mais justa. A tributação sobre consumo é considerada a mais injusta, pois atinge de forma igual todos os contribuintes, independentemente de sua capacidade contributiva. Os tributos incidentes sobre 1kg de feijão são pagos na mesma medida por quem o compra, seja ele um bilionário ou um sem teto.
Fora que o consumo dos mais pobres, em termos percentuais sobre a renda (a maioria consome 100% do que ganha), é bem maior do que o consumo dos mais ricos, os quais conseguem poupar parte da renda. Com isso, a tributação do consumo, em termos percentuais sobre a renda, acaba sendo maior nos mais pobres.
A tributação sobre a renda e sobre o patrimônio, tende a corrigir esse problema.
No Brasil, comparando com os países da OCDE, temos uma alta tributação sobre o consumo, uma tributação na média sobre a renda, e uma baixa tributação sobre o patrimônio.
Temos tributos sobre o consumo que se sobrepõem, e com alíquotas por volta de 5% (ISS), 10% (PIS e COFINS), 20% (ICMS), ou até mais (IPI em alguns casos). Sobre a renda, as alíquotas ficam, no máximo, em 34% para as empresas, e 27,5% para pessoas físicas. Já sobre o patrimônio, as alíquotas ficam entre 4% e 8% para ITCMD (imposto sobre doações e heranças), por volta de 2% para ITBI (transmissão de imóveis), próximo de 3% para IPVA, dentre outros.
Não há como negar que o sistema, a princípio, parece uma inversão ao observado em países mais desenvolvidos: muito tributo para quem pode pagar pouco, peso sobre o consumo (travando atividade econômica), e baixa taxação de heranças, motivando transferência de riquezas dissociada de atividade produtiva. Resultado disso podemos ver na última lista de bilionários da Forbes: dos brasileiros, apenas 43% dos integrantes da lista ganharam o seu próprio dinheiro; o restante, são herdeiros. Não é fácil ser empresário no Brasil.
Feito esse panorama, passamos para o que está sendo discutido em termos de reforma tributária.
A chamada “reforma tributária” está concentrada nos tributos sobre consumo, com alterações na constituição federal. Temos duas PECs em tramitação, uma na Câmara (PEC 45), outra no Senado (PEC 110).
Em ambas, a previsão é a substituição de cinco tributos sobre consumo, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, por um tributo, também sobre consumo, o IBS – imposto sobre bens e serviços.
Há previsão para um período de transição, onde os cinco tributos substituídos conviverão com o substituto, justamente para adaptação do sistema e calibração da alíquota a ser aplicada. Em resumo, nos primeiros anos o sistema vai ficar mais complicado do que é hoje.
Questões como tributação sobre folha de pagamento, tributação sobre dividendos, substituição tributária e simples nacional não são tratadas nas PECs, dado que representam matérias de competência de leis infraconstitucionais. Esse é um dos problemas, há o risco de mudanças ocorrerem de forma dissociada, e com isso criar-se um sistema pior do que o atual.
Na próxima newsletter vamos tratar especificamente da PEC 45 e da PEC 110, trazendo um pouco mais de detalhes sobre cada uma delas, assim como os seus efeitos, considerando a tributação atual. E na newsletter posterior, tratamos das questões infraconstitucionais.